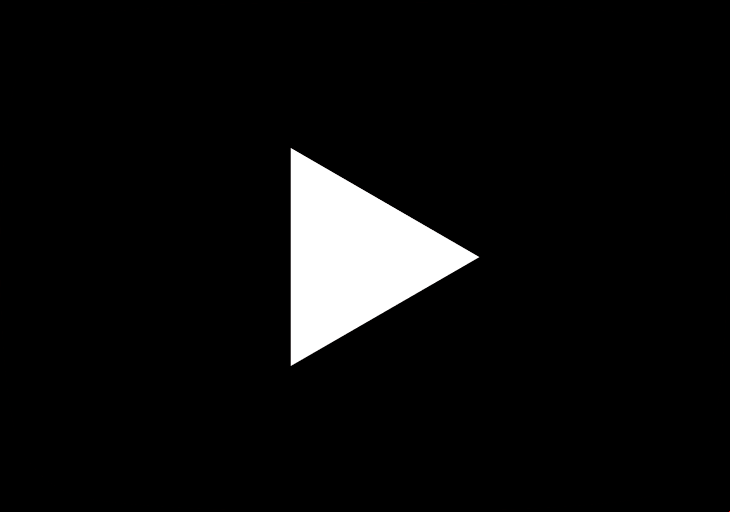Coopítulo 34 - Louco terror
Por José Antonio Vieira da Cunha

O jornalista Luiz Cláudio Cunha respondia por uma página relevante no Coojornal, a coluna Perdão, Leitores, que analisava e criticava registros da grande imprensa com um texto ao mesmo tempo criativo e ferino na medida certa. Vice-presidente na primeira diretoria da Cooperativa dos Jornalistas, era na época chefe da sucursal da Veja no Rio Grande do Sul, e acompanhava atentamente a cena política nacional. Ao ler a coluna A Mulher, ele lembrou que no início do ano a um texto no site Observatório da Imprensa detalhando o episódio da remessa tumultuada de uma reportagem vinda por avião. Explicara que naqueles tempos sem internet, o envio de reportagens ou filmes fotográficos era feito de forma "quase artesanal, um pouco amadora, sempre voluntária". Hoje lamenta que só não citou a Rosvita no episódio daquela matéria sobre os cassados porque não sabia que ela era a pessoa que aguardava o portador.
Identificar um ageiro no aeroporto e pedir a ele para transportar um envelope era, como registra Luiz Cláudio, "um arranjo que funcionava", desde que o portador não fosse um curioso mal-educado capaz de abrir a correspondência e se sentir contrariado com o conteúdo, como aconteceu neste episódio.
O registro no próprio editorial do Coojornal, em julho de 1977, feito pelo editor Elmar Bones, foi resgatado por Luiz Cláudio, e vale reprisá-lo, pela riqueza de detalhes e o non-sense que revela:
"Encomendamos a reportagem a três colegas de São Paulo que já tinham um levantamento amplo sobre o assunto. Um levantamento, pelo que sabemos, ainda não feito no país. Durante dois dias eles trabalharam sem parar. Na segunda-feira, 4, às seis horas da manhã o repórter Hamilton Almeida Filho saiu direto da máquina para o aeroporto de Congonhas.
É um recurso comum em casos de emergência: para evitar a burocracia dos despachos, quando não se tem mais tempo, pede-se o favor a um ageiro para trazer o material que alguém espera no ponto de chegada. No voo das 8h30 da Cruzeiro, Hamilton localizou um cidadão de maneira afável, simpático. Era um funcionário do Ministério da Fazenda que, prontamente, aceitou trazer o envelope.
No aeroporto de Porto Alegre, era outro o homem. Nervoso, gaguejando, travou o seguinte diálogo com a pessoa que foi apanhar o envelope:
- Olha, me desculpe, eu derramei cafezinho no material, ficou inutilizado.
- Não, mas o senhor pode me dar assim mesmo. Deve dar para ler, a gente arruma?
- Mas ficou imprestável, joguei fora?
- Isso é um absurdo, como é que o senhor fez isso? O senhor sabia o que tinha no envelope? Era uma reportagem.
A esta altura o homem mudou o tom de voz e explicou:
- Aconteceu o seguinte: abri o envelope e li o que tinha dentro. Aquele assunto?. Eu sou um funcionário do governo, não podia desembarcar com aquilo. Tinha autoridades me esperando, não posso me comprometer?. Eu destruí o material. Você deve compreender a minha situação.
Tremia o homem e não havia como reclamar dele. A solução foi esperar uma cópia providencialmente guardada em São Paulo e, desta vez, remetida pelas vias normais. Ao saber do fato, inédito em sua carreira de 15 anos de jornalismo, Hamilton exclamava do outro lado da linha:
- Isso é o Brasil, minha gente!
Leia a reportagem, leitor, e depois nos diga: vai chegar o dia em que teremos medo de comprar um jornal na banca? Ou já chegou?"
***
A pergunta embutia uma intuição do editor ou uma certeza? Pois aconteceu de fato, e o medo cresceu naqueles anos obscuros quando, no início de 1980, bancas de jornais aram a ser incendiadas durante a madrugada em muitas capitais. Os atentados se alongaram até o ano seguinte; a direita enlouquecida conseguiu atingir o objetivo, pois os donos de bancas aram a recusar-se a vender jornais alternativos como Movimento, O Pasquim e o Coojornal.


 Coletiva
Coletiva